“O racismo mata desde que a Europa se impôs a medida do mundo e a referência de ser humano”
Edição: Vitor Diel
Arte: Giovani Urio sobre reprodução
Uma travessia profissional, que durou alguns meses, fez com que eu deixasse de escrever por um tempo para esse projeto que me interessa e instiga muito. Como um pesquisador de relações étnico-raciais, neste período, vi alguns temas permaneceram em circulação e outros emergiram a partir de novas perspectivas, ou de armadilhas do poder, como o recente debate sobre racismo estrutural. Neste tempo, duas questões têm me preocupado e outra me chamou atenção em meio a esse universo de novidades editoriais de cinco, ou seis décadas.
A história do “museu de grandes novidades”, cantada por Cazuza, parece se aplicar ao mercado editorial com os novíssimos lançamentos de Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento, Clóvis Moura, entre outros. Muitos outros que, por coincidência, são escritores negros deixados esgotar há mais de meio século e alguns nem lançados. Em alguns anos, saberemos se esse momento foi um modismo, interesse comercial, ou uma decisão do mercado de tornar-se mais plural — que também depreende a permanência de novos escritores.
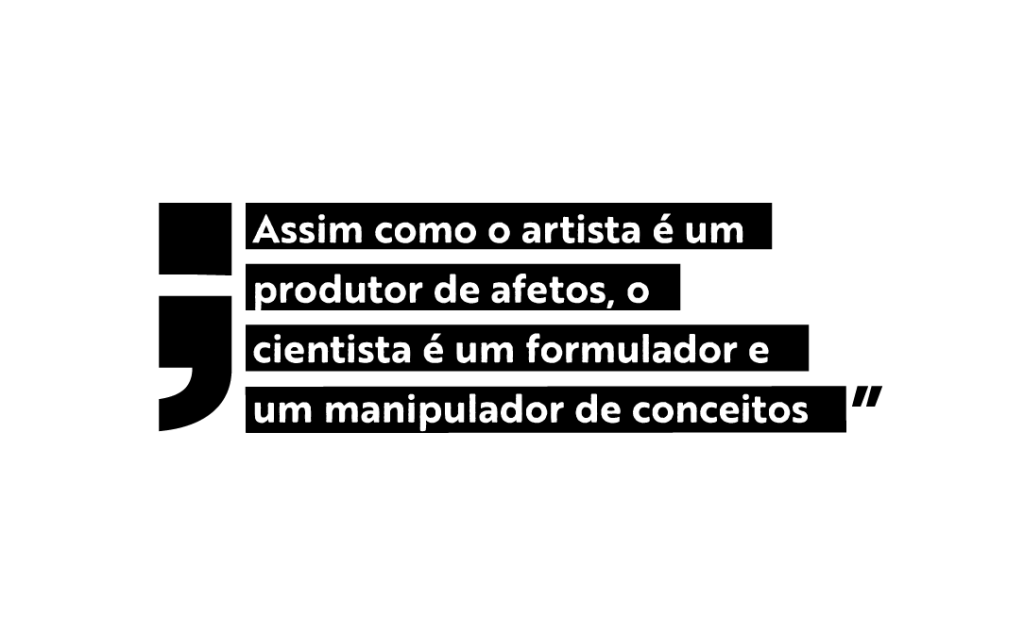
As questões que me inquietam para essa reflexão envolvem conceitos. Principalmente esses referidos no título. Assim como o artista é um produtor de afetos, o cientista é um formulador e um manipulador de conceitos. Essa produção é sempre feita com muito apuro técnico-reflexivo, nos dois casos, e sempre com o objetivo de torná-los comuns. Não sou artista e nem pretendo aqui escrever como cientista, mas como alguém que milita por um mundo em que as pessoas tenham garantido o direito de ser e de viver.
O que tem me preocupado sobre elas — branquitude e pretoguês, é que têm sido utilizados de uma forma tão simplificada que produz equívocos de entendimento e uso. Isso não chega a ser novidade. Aconteceu de maneira muito profunda com o “lugar de fala” em Djamila Ribeiro que, na forma como circulou — não como ela escreveu, levou ao entendimento de ser um lugar de interdição e não, como deveria ser, uma perspectiva para possibilitar o encontro de diferentes. Me arvoro a querer complexificar, expandir um pouco seus sentidos, buscando protegê-las de algumas apropriações como verdade; pelo menos para os leitores deste texto.
O conceito de branquitude é uma vitória de pesquisadores das relações raciais, principalmente, negros, mas também brancos de desnormalizar a brancura como norma do humano. Branquitude portanto não é sinônimo de pessoas brancas. Usar dessa forma despotencializa muito o conceito. É uma categoria mais comumente utilizada como definição do grupo étnico-racial, com suas dimensões culturais e de opressão. Esse avanço possibilita que ao falarmos em relações ético-raciais não pensemos somente em negros e indígenas. Afinal, onde ficam os brancos nessa relação? Particularmente eu entendo a branquitude como a relação de poder que sustenta o Ocidente. O entendimento de que as ideias de civilização, filosofia e ética são tidas como verdade a partir somente da historicidade europeia. Vale, portanto, pensar, ou repensar, seu uso comum.
Já o Pretoguês de Lélia, esse sim, sofre uma completa despotencialização de uso. Você já deve ter lido, ou ouvido sobre as palavras usadas no Brasil de origem africana. Mais do que isso, sobre as gírias de estilo utilizadas pelos negros. Muitos usam essas duas derivações para falar sobre o Pretoguês. Nunca foi sobre isso. O movimento é simples. Falamos o Português de Portugal? Não. Até mesmo o teclado do computador e a inteligência artificial reconhecem a língua brasileira. Pois bem, meu amigo, por mais sangue francês, ou europeu que imagine possuir — por mais que isso seja biologicamente impossível, você fala pela sonoridade o Pretoguês. Leia Lélia, uma de nossas novidades editoriais. Compreender e evitar os pequenos desvios e despotencializações faz parte da luta antirracista que também é discursiva.
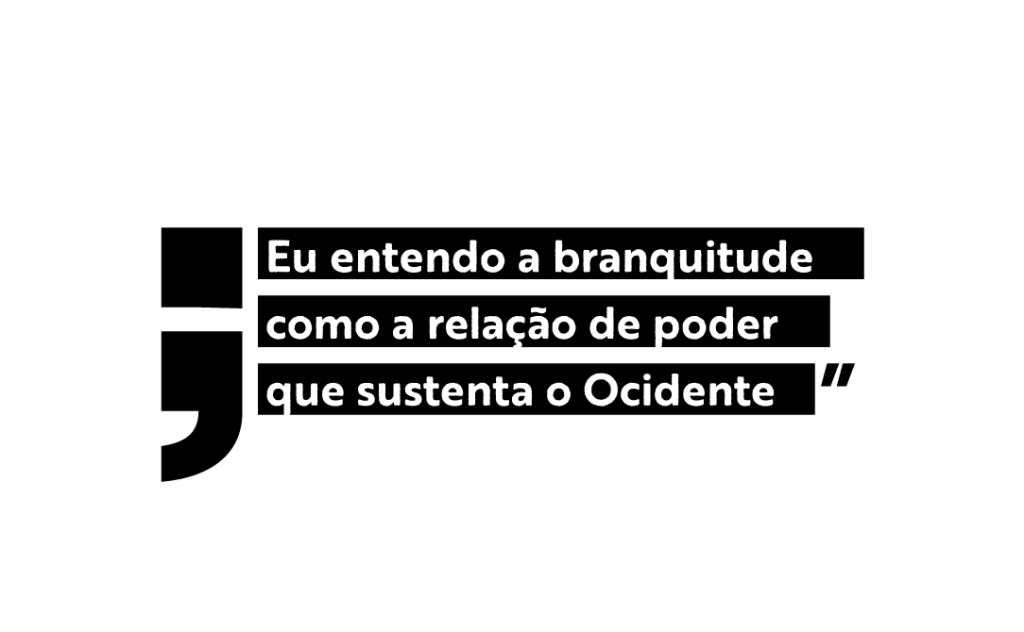
Ah! Sobre o debate envolvendo racismo estrutural, desencadeado por recente livro e principalmente a entrevista de Muniz Sodré, que recusa como válida a proposição, são duas coisas já vistas e referidas inclusive por aqui na coluna. A primeira é que o entendimento estrutural do racismo extrapola os paradigmas materialista e estruturalista, pensados numa perspectiva eurocêntrica. Então querer desconstruí-lo como operador reflexivo e político-social válido tensiona o principal argumento que embasa o estabelecimento de políticas públicas. O racismo mata desde que a Europa se impôs a medida do mundo e a referência de ser humano. Recusar seu caráter estrutural é dizer que a culpa é das pessoas.
Trata-se, portanto, de um equívoco político pela leitura fixada de um conceito — usa a definição e crítica pós-estruturalista como uma verdade. “Eu estou com a verdade e a tradição milenar de pensadores negros e brancos que aponta o racismo como estrutural está errada” é se levar muito a sério, para dizer o mínimo. É inegável, a partir de qualquer análise mais simples, que as práticas de racismo constituem uma permanência e organizam todas as relações sociais — as estatísticas provam isso. Dizer que é porque as pessoas não se conhecem e falta proximidade, é um argumento de inocência e, infelizmente, de distanciamento do mundo da vida.
Mário de Andrade fez isso quando disse que o racismo tinha como causa a superstição do branco contra a cor preta — já falei disso aqui. Vivermos juntos e nos conhecermos é o que respalda o mito da democracia racial. Mário de Andrade também foi usado para atacar e silenciar Lima Barreto. É coisa que se repete. Muniz Sodré foi chamado pela FSP a silenciar, ou pelo menos confrontar o ministro Silvio Almeida, citado nominalmente na entrevista. O ataque das elites a negros no poder também não é novo. Mesmo sendo um livro de entrada e discursivamente jurídico sobre o tema, Racismo Estrutural sistematizou de forma clara como o racismo se organiza e estrutura diferentes esferas de relações sociais.
Gostaria de poder falar de coisas mais amenas do que de morte, racismo, violência simbólica e silenciamentos, mas essa coluna é uma forma de circular debates emergentes e periféricos sobre relações étnico-raciais e o direito de ser, oriundos do movimento social e da academia. Sigamos em luta!
ANDRADE, Silvio. Racismo Estrutural. BH: Letramento, Feminismos Plurais, 2018.
BENTO, Cida. Pacto da Branquitude. SP: Cia das Letras, 2022.
RIBEIRO, Djamila. O que é Lugar de Fala. BH: Letramento, Feminismos Plurais, 2017.
SODRÉ, Muniz. O fascismo da cor. Uma radiografia do racismo nacional. Petrópolis: Vozes, 2023.
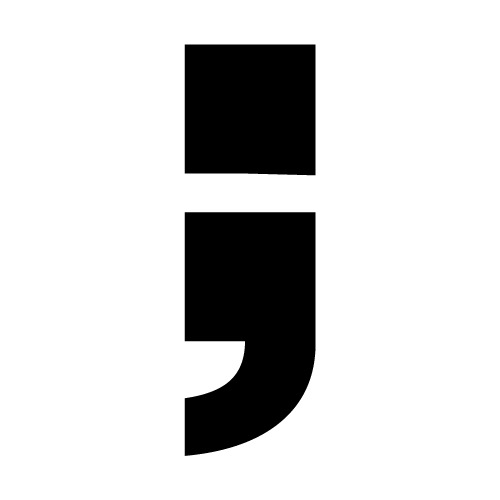

Deivison Moacir Cezar de Campos é jornalista, doutor em Ciências da Comunicação e doutorando em História. Professor do PPG em Educação e dos cursos de Comunicação da Ulbra. É pesquisador vinculado aos grupos de Comunicação e Mídia da ABPN; Estéticas, Políticas do Corpo e Gênero da Intercom. Integra o Coletivo Casa de Joana – afro-empreendedorismo e cultura negra, e é conselheiro de Cultura de Canoas. Ritmista da União da Vila do Iapi, cultiva um amor tátil pelos livros.
Apoie Literatura RS
Ao apoiar mensalmente Literatura RS, você tem acesso a recompensas exclusivas e contribui com a cadeia produtiva do livro no Rio Grande do Sul.

