“Minha mãe impunha uma proibição, não admitindo que três palavras fossem pronunciadas debaixo do nosso teto”
Edição: Vitor Diel
Arte: Giovani Urio
Em minha família, desde sempre tivemos liberdade para tratar de absolutamente qualquer assunto. Sabíamos, no entanto, que a liberdade não era irrestrita, pois, se assim fosse, ela receberia outro nome. Minha mãe impunha uma proibição, não admitindo que três palavras fossem pronunciadas debaixo do nosso teto. Conforme o seu estatuto pessoal, o uso dos termos tinha o poder de atrair mau agouro para o lar e para a vida de quem a mencionasse. “Não presta”, justificava categórica.
As palavras são: desgraçado/a, infeliz e a expressão “eu odeio”. Não importava o histórico da vítima, nós que arranjássemos termos substitutos. Era algo que me intrigava, a capacidade de uma palavra provocar infortúnio. [Criar, agora, um elo, associando tal relato à minha condição de escritora, talvez forçasse a barra, apesar de ser uma imagem atrativa. Mas, vamos lá, que a noção tenha se infiltrado e, ao menos, interferido no comprometido exercício de escolha sobre qual palavra devo usar em meus contos e nos textos jornalísticos].
Cada um, cada uma, encontra, à sua maneira, uma forma de lidar com as palavras. No documentário Maya Angelou – Ainda me levanto (2016, Bob Hercules e Rita Coburn Whack) a escritora (1928-2014) norte-americana — e bailarina, poeta, atriz, dramaturga, cineasta, apresentadora, roteirista e ativista dos direitos humanos — retratada no filme comenta sobre a repreensão que já havia feito a alguns nomes do hip-hop norte-americano. Eles usavam em suas letras de música expressões pejorativas a homens e a mulheres negras como elogio. Em resposta à escritora, eles alegavam que, sim, os termos carregam um histórico problemático, mas haviam sido ressignificados pela juventude negra. Não convenceram a Ms. Angelou. Ela rebatia dizendo que ainda era vulgar. E acrescentava algo como “tente usar essa palavra com uma senhora Bush para ver o que acontece a você. Normalizam dirigir certos termos a uma mulher negra. Por sermos as últimas [na pirâmide social], ousam se aproveitar de nós, mas isso seria impensável em relação a uma mulher branca”.
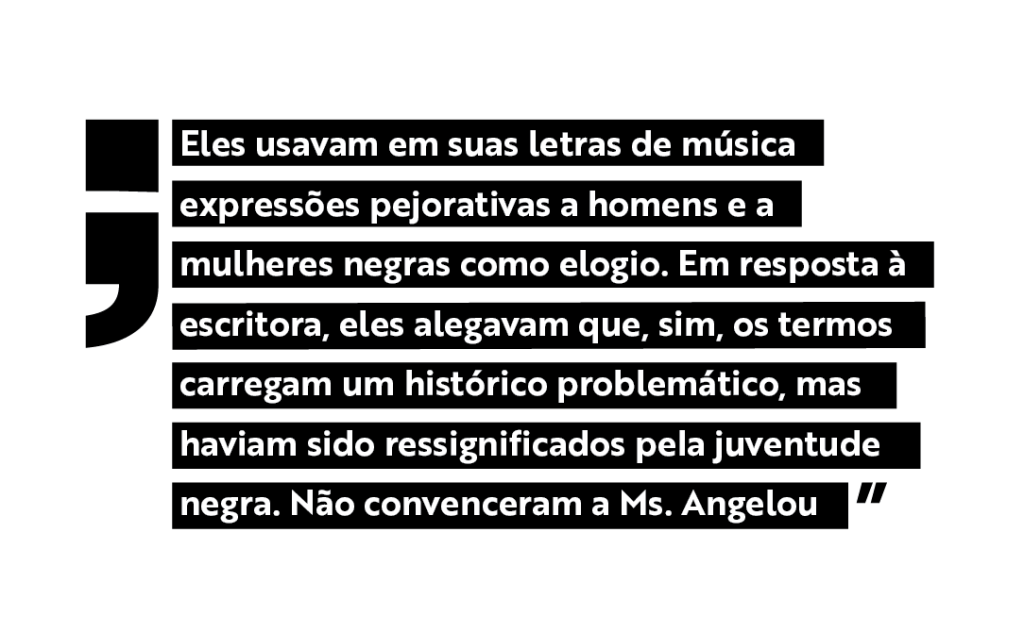
A escritora pernambucana Marilene Felinto (1957), por sua vez, substitui certas palavras para o idioma inglês em suas obras de ficção. Em Mulheres de Tijucopapo, a personagem Rísia diz: “Eu quero que o que eu fale se pareça com inglês, outra língua que eu sei falar, uma língua estrangeira. Dizer ‘goodbye mother!’, ‘goodbye father!’ ‘goodbye you’ serve-me tão mais, às vezes, ao invés de: adeus mãe! pai! vocês!”. No conto Ilsa, Vanilsa, Valdaísa, que integra o livro Autobiografia de uma escrita de ficção – ou: por que as crianças brincam e os escritores escrevem (Edição da autora, 2019), a personagem diz:
‘’– Minha tia! – eu quase solucei certa hora, à beira do seu ‘casket’ (que em inglês se chama assim ’casket’, o caixão, o esquife (o casquife); que eu prefiro certos nomes em inglês, em outra língua qualquer, porque soam melhor, porque me dão uma distância da coisa em si e a tornam mais suportável, talvez).’’
São palavras e sentidos emprestados a elas no âmbito pessoal, literário e artístico, que acolhem, digamos, a liberdade poética. Por outro lado, quando é preciso lidar com as denominações na esfera social, histórica e cultural do Brasil, o batismo se complexifica.
A escritora norte-americana Audre Lorde (1934-1992) fala da importância da autodefinição diante daquelas impostas às mulheres negras. A teórica feminista, educadora e escritora bell hooks (1952-2021), por sua vez, conceitualiza a arriscada abstração e subjetividade do amor, em Tudo sobre o amor, dando-lhe concretude e um caráter político. Conceição Evaristo (1946) cria o termo escrevivência para a escrita que trata das lembranças e experiências das mulheres negras. Para tudo há um nome, e para aquilo que não tem, cria-se.
Mesmo assim, existem fatos os quais se resiste nomear. Não porque atraem má sorte, mas porque, vejam só, cumprem o seu papel, ou seja, definem. E, na balança do poder e do privilégio, sabe-se que apenas uma das bandejas tem o direito de emprestar sentido às coisas. Mesmo que um prato pese o suficiente para que o seu conteúdo receba um nome, há quem prefira evitá-lo, mas sabe-se que ele não deixa de pesar por isso. Às vezes, é preciso falar em alto e bom som que um genocida é justamente um genocida.


Priscila Ferraz Pasko (1983 – Porto Alegre) é escritora, jornalista freelancer na área cultural e graduanda em História da Arte (Ufrgs) . É autora do livro de contos “Solo rachado por dentro” (Figura de Linguagem, prelo), “Como se mata uma ilha” (Zouk, 2019) – Prêmio Açorianos 2020 na categoria conto. Também integra a coletânea “Novas contistas da literatura brasileira” (Zouk, 2018). Paralelamente, Priscila se dedica à dança contemporânea e a experimentos em videodança. Se interessa ainda por artes visuais, pelo processo criativo/vivência de artistas mulheres e sonhos. Divide o teto com os seus dois gatos, a Pemba e o Arruda.
Apoie Literatura RS
Ao apoiar mensalmente Literatura RS, você tem acesso a recompensas exclusivas e contribui com a cadeia produtiva do livro no Rio Grande do Sul.

